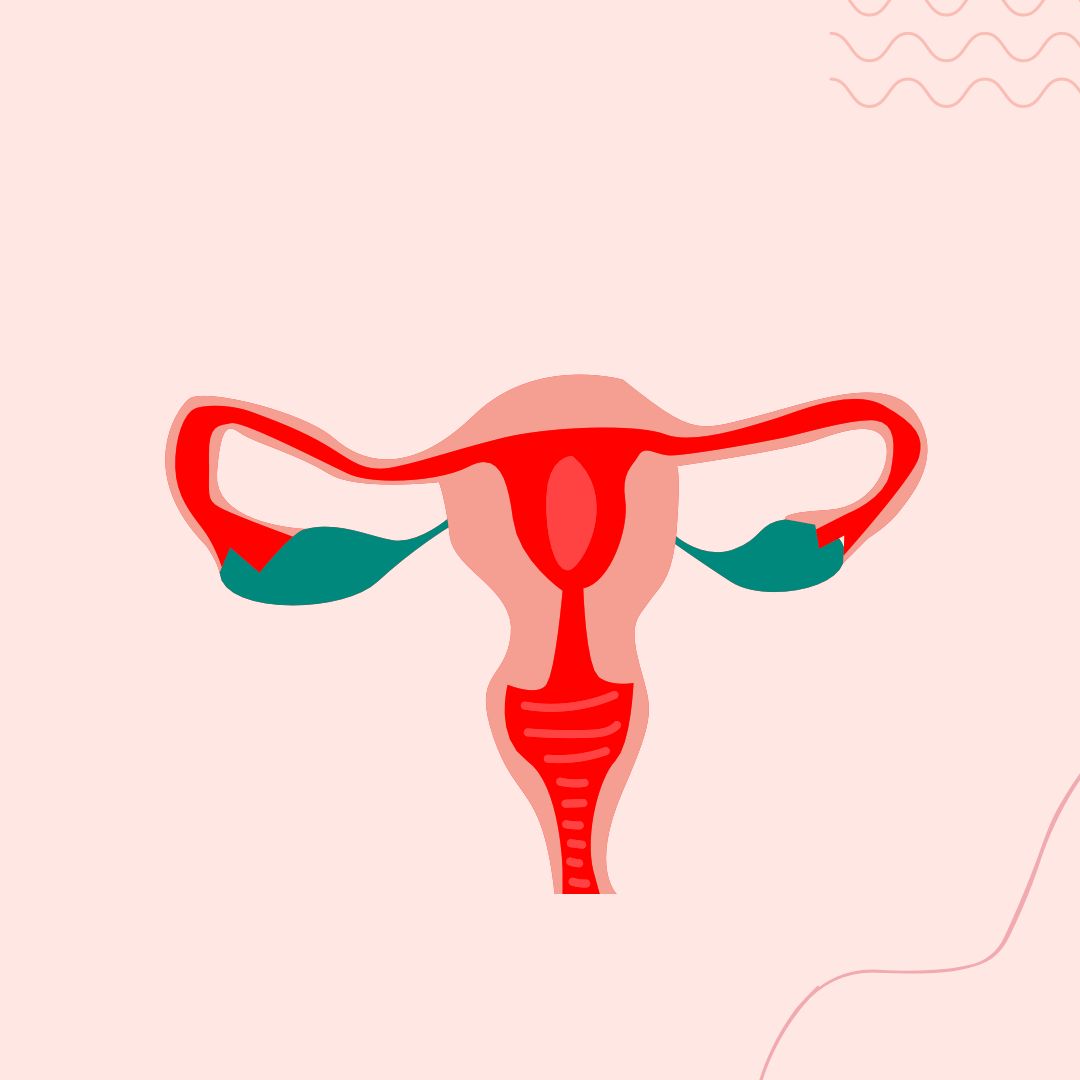Na penúltima semana de junho veio à tona dois fatos que marcaram e impactaram a vida de duas mulheres. Histórias com realidades sociais distintas, mas com alguns elementos semelhantes, principalmente pela ótica do julgamento e de como uma menina ou uma mulher são tratadas diante de um tema ainda bastante polêmico: o aborto.
No dia 20 de junho jornal The Intercep Brasil, divulgou uma matéria com um caso que chamou a atenção de diferentes instituições, pessoas e novamente uma grande polêmica gerada. De acordo com informações divulgadas pelo jornal, à juíza Joana Ribeiro Zimmer, titular da Comarca de Tijucas, juntamente com um membro do Ministério Público, tentava convencer uma menina de 11 anos a desistir de um procedimento de aborto, que no caso da menina, era legal. A menina, vítima de estupro, ao procurar o hospital para a realização do aborto, foi informada que, devido ao avanço da gravidez, tempo gestacional de vinte duas semanas, precisaria de uma autorização judicial para realização do procedimento. Contudo, não existe hoje na legislação, na jurisprudência, ou mesmo doutrina, um tempo gestacional estabelecido para realização do aborto.
O conceito da palavra aborto, o define como a interrupção do processo de gravidez. O aborto (de ab-ortus) transmite a ideia de privação do nascimento, com a morte do produto da concepção. Do ponto de vista médico, aborto é a interrupção da gravidez até 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas ou, ainda, segundo alguns, quando o feto mede até 16,5 cm. (A LEGISLAÇÃO SOBRE O ABORTO E SEU IMPACTO NA SAÚDE DA MULHER)
A enciclopédia jurídica determina: “Rigorosamente, malgrado a pragmática linguística consolidada e a terminologia legal adotada, existe distinção entre os vocábulos “aborto” e “abortamento” (“partus abactus, crimen procurati abortus”). Croce e Croce Jr1 esclarecem que “abortamento” corresponde ao ato de abortar, isto é, ao conjunto de meios e manobras empregado para interrupção da gravidez, enquanto que “aborto” (do latim ab + ortus = privação de nascimento; de aboriri = desaparecer) identifica o produto da concepção, morto ou inviável, dali resultante”. (ENCICLOPEDIA JURIDICA).
O penalista Heleno Cláudio Fragoso (1986) diz que “o aborto consiste na interrupção da gravidez com a morte do feto”. A partir disso, não podemos considerar que a interrupção de uma gravidez que já está com 22 duas semanas é um homicídio, como foi afirmado pela magistrada que conduzia as discussões sobre o caso da garota de 11 anos.
Existe na legislação uma clara definição do que seria o crime de aborto e o homicídio. Bittencourt apresenta a seguinte lição: “A vida começa com o início do parto, com o rompimento do saco aminiótico; é suficiente a vida, sendo indiferente a capacidade de viver. Antes do início do parto, o crime será de aborto. Assim, a simples destruição da vida biológica do feto, no início do parto, já constitui o crime de homicídio.”.
A doutrina define como homicídio, quando em ocasião violenta alguém resolve tirar a vida do outro, será a eliminação da vida extrauterina, ou seja, de forma simplificada, é colocar um fim a vida de quem já nasceu.
No Brasil, em regra, o aborto é crime, tanto o auto-aborto ou aborto provocado por terceiros. Fazer um aborto ilegal pode acarretar em prisão de um a três anos para a mãe ou quem deu permissão para o ato. Contudo, existem três hipóteses em que o aborto é permitido: na gravidez resultante de estupro, essa situação é precedida de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal; quando põe em risco a saúde da gestante e nos casos em que o feto é anencéfalo.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, decidiu que em casos de anencefalia, quando o feto tem má formação na calota craniana ou no cérebro, a mulher também pode interromper a gravidez. Na época o entendimento por parte dos os ministros é que um feto com anencefalia é natimorto e, assim sendo, a interrupção da gravidez nessa situação não é considerado aborto.
A pesquisadora Debora Diniz afirma: “O diagnóstico da má formação fetal é, sem sombra de dúvida, uma das experiências mais angustiantes que uma mulher grávida pode experimentar.”.
Após essa matéria a respeito da negativa da juíza, outras informações sobre a gravidez da menina vieram a público. De acordo com o inquérito e divulgação em outros portais de notícia, a menina teve relações sexuais de forma consentida com o filho do padrasto, um menino de 13 anos. Nessa circunstancias não se pode falar em crime de estupro, por dois motivos, primeiro pelo consentimento e o segundo ponto é que se o ato entre a criança e o adolescente não fosse consentida, teríamos um ato infracional, não mais um crime de estupro de vulnerável. Contudo, o consentimento e a idade dos envolvidos mudou tudo. Haveria algum impedimento para a realização do procedimento do aborto? Embora não sendo gerado por ato de violência sexual, tinha-se uma situação atípica, um problema familiar que precisava de amparo e uma solução por parte do Estado. Os envolvidos são pessoas em formação, que muito provavelmente não tenha conhecimento das consequências do que estavam fazendo. Em um momento na audiência a magistrada pergunta a menina se ela sabia como engravidava e a resposta foi não.
A segunda personagem dessa semana polêmica é a atriz de 21 anos, Klara Castanho, que teve sua vida íntima violada e com isso veio a público esclarecer especulações em torno de uma gravidez e colocação de criança para adoção. Uma coisa perceptível é que cada vez que uma mulher expõe uma violência sexual sofrida (nesse caso um estupro), percebemos o quanto essa mulher é atacada, julgada e condenada socialmente pelas decisões que em torno da violência sofrida. Para uma parte significativa das pessoas a culpa é sempre da vítima. Klara Castanho foi obrigada, depois de diversas especulações, a expor que foi vítima de estupro o que resultou em uma gravidez.
A atriz não realizou o procedimento de aborto. De acordo com seu relato, só descobriu a gravidez quando estava próximo do bebê nascer. Por não desejar permanecer com a criança, resultado de uma experiência traumatizante, procurou uma advogada para proceder com os trâmites legais e assim entregá-la para adoção.
Também é relatada pela atriz a falta de empatia do médico que a atendeu que a obrigou a ouvir os batimentos cardíacos da criança e disse no atendimento que ela deveria amá-lo por carregar parte do seu DNA. Como também após o parto, ainda no hospital, foi procurada por jornalistas (buscavam informações sobre o fato), que só chegaram ao hospital após a falta de ética de alguns profissionais.
Quando a notícia de que uma mulher havia entregado uma criança para adoção, mesmo sendo divulgado junto com essa informação o fato de que essa mulher havia sido vítima de uma violência sexual, não foi poupada de julgamentos. Novamente um cenário de discussões foi estabelecido nas redes sociais. Debate sem fundamentação teórica, sociológica ou mesmo jurídico.
A atriz procurou uma advogada e pelos meios legais entregou a criança para adoção. O que diz a nossa legislação sobre a entrega de uma criança para adoção? A atriz cometeu crime ao assim fazer? Houve abandono de incapaz? Como levantando por algumas pessoas.
Na nossa legislação não é crime colocar a criança para adoção, mesmo que a gravidez não tenha sido resultado de um crime de estupro. A previsão legal de entrega voluntária de bebês para adoção foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) desde 2017, entrando em vigor assim o artigo 19-A. Trata-se de um mecanismo que procura proteger as crianças e evitar práticas que não são permitidas no Brasil, como aborto fora das hipóteses previstas em lei, abandono de bebês e adoção irregular. Em caso de violência sexual, a lei dispõe que a mulher pode realizar o procedimento de interrupção da gravidez, independentemente de semanas gestacionais.
A mãe que assim manifestar interesse na entrega do filho deve procurar desses lugares, postos de saúde, hospitais, conselhos tutelares ou qualquer órgão da rede de proteção à infância. A mulher será então encaminhada à Vara da Infância e da Juventude, onde será ouvida por profissional da equipe técnica composta de psicólogos, assistentes sociais, que em conjunto analisarão se ela realmente está convicta e em condições de tomar a decisão, considerando-se inclusive eventuais efeitos do estado gestacional ou puerperal.
Sobre o crime de abandono de incapaz se caracteriza quando alguém tem o dever de cuidar de um menor, mas o deixa sozinho, sem a menor capacidade de se defender de eventuais riscos. Recentemente um pai deixou a filha de 6 anos dormindo sozinha em um apartamento que ficava no 12° andar, o que terminou com a morte da criança. A título de reflexão, houve uma grande repercussão sobre o fato? E se fosse uma mãe que deixasse uma filha de 6 anos sozinha e tivesse saído com o namorado? O nosso Código Penal não tipifica os crimes levando em consideração uma pena maior ou menor pelo critério se foi o pai ou a mãe. A lei seria aplicada da mesma forma independentemente do gênero. Se você deixou seu filho sozinho, não importa se você é homem ou mulher, será devidamente responsabilizado. Mas e as pessoas, a sociedade, usaria/usam a mesma medida para apontar os erros paternos e maternos?
Conforme o Código Penal, o crime de abandono de incapaz se caracteriza quando uma pessoa que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade de terceiros é abandonada e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se de riscos, (Art. 133, CP).
A atriz, como relatado em seu perfil, procurou um profissional e os órgãos responsáveis para realizar a entrega da criança, formalizando assim pelos meios legais e não simplesmente abandonando o incapaz a desconhecidos.
A conclusão tirada a partir dos dois fatos que ganharam destaque nacional é que, as pessoas ainda cobram muito pouco dos reais responsáveis por crimes de abuso ou violência sexual. A mão do julgamento, das ofensas, ainda recai exclusivamente sobre a mulher. Não se percebe tanto interesse em identificar aqueles que violam uma mulher e que esses através do devido processo legal cumpram uma pena. Klara fez o que a maioria das pessoas ligadas a alguma entidade religiosa, apontam como solução para os casos em que a mulher engravida após sofrer violência sexual, ou seja, não fez o aborto e entregou para adoção. Preservou a vida. Mas, quantas páginas, entidades de cunho religioso manifestou apoio a Klara e disse “muito bem, você fez o certo, você poupou uma vida ao não realizar o aborto”, quantas? Eu, pelo menos, não vi nenhuma. O fato é que, uma parte da nossa sociedade permanece com o pensamento medieval de que se existe o DNA da mãe naquele feto, mesmo oriundo de uma violência sexual, essa mulher deve desenvolver o “instituto materno”, deve ter o sentimento de perdão e misericórdia e permanecer em convívio com o fruto da violência que sofreu. Por conta meramente genética a atriz ou qualquer mulher tem por obrigação amar aquela criança em formação.
Temos uma cultura que odeia as mulheres. Tivemos duas provas essa semana, duas provas que revelaram as duas faces de um mesmo problema. A menina que é estuprada e procura atendimento para realizar o aborto recebe como veredito a condenação. E não muito diferente, a mulher que resolve ter o bebê e disponibilizá-lo, de forma legal, para adoção, recebe da nossa sociedade o mesmo tratamento. Não importa o que a mulher faça, ela na maioria das vezes vai estar errada. Porque para estar certa você precisa apenas, geneticamente, nascer com o cromossomo XY.